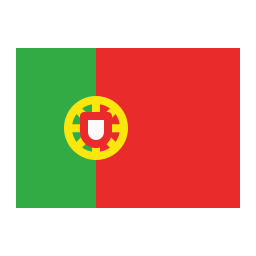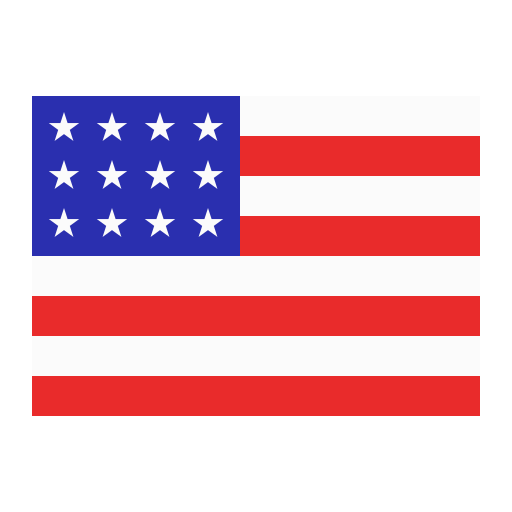POR BBC NEWS BRASIL
“Sou gringa para eles”, diz com um sorriso a antropóloga italiana Francesca Mezzenzana. “Mas meu filho, todos o percebem como um Runa.”
Em 2015, quando seu filho tinha quatro meses, ela foi para a Amazônia equatoriana, para uma aldeia indígena com cerca de 500 habitantes.
Essa experiência, que a marcou profundamente não só como acadêmica, mas como mãe, foi refletida no ensaio “Puericultura Amazônica”, publicado no site Aeon.
Mezzenzana é doutora em antropologia pela London School of Economics e é a pesquisadora principal do projeto Learning Natures no Rachel Carson Centre for Environment and Society em Munique, Alemanha.
Ela descreveu à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC, como o povo Runa mostrou a ela “sutilmente, mas implacavelmente, que há mais de uma maneira de florescer como seres humanos”.
No Dia Internacional dos Povos Indígenas, compartilhamos a experiência que ela nos contou na entrevista a seguir:
BBC News Mundo – Por que você foi morar com seu bebê na comunidade Runa?
Francesca Mezzenzana – Trabalho na província de Pastaza, região amazônica do Equador, desde 2011.
Meu companheiro é de lá e a primeira vez que fui morar na área ficamos por três anos. Desde então, vamos todos os anos por períodos de seis ou oito meses.
Quando nosso filho nasceu, queríamos levá-lo para que a família o conhecesse. Não pensei muito nisso, mas as pessoas ao meu redor ficaram surpresas: “Como você vai para um lugar tão remoto?”
Sim, a Amazônia equatoriana é remota, mas também é minha casa. Meus parentes moram lá, temos uma cabana. Então, para mim, foi uma decisão instintiva.
BBC – Seu artigo fala sobre Digna, “uma mulher sábia que havia criado 12 filhos”.
Mezzenzana – Digna era a avó do meu marido. Faleceu há cerca de quatro anos.
Ele só falava Kichwa, tinha uma vida incrível. Seu pai, que era um xamã muito conhecido na região, não a mandou para a escola.
Ela cresceu com uma disciplina dura, mas muito bonita também. Aprendeu a curar com as plantas, a andar, a conhecer a selva.

Ele foi uma das pessoas que mais me ensinou no meu tempo no Equador.
Ela foi uma das mulheres chamadas sinchi warmi, que significa mulher forte e sábia. Ainda existem algumas, mas os mais velhas já estão indo embora e é muito triste porque com elas se foi toda uma forma de ver o mundo e viver.
BBC – Você se lembra como foi o encontro entre Digna e seu bebê?
Mezzenzana – Ela ficou muito feliz por termos ido e por ver essa criança que ela dizia ser “de dois mundos”.
Ela era muito carinhosa e queria cuidar dele, mas era muito cuidadosa comigo porque sentia que a forma de criar os filhos na Europa é muito diferente de como se faz na Amazônia.
Ela tinha suas ideias sobre o que fazer com um bebê, mas sempre foi muito respeitosa.
Ela conta que ao vê-la colocando o filho no baby sling, o ‘porta-bebês’, perguntou ao marido: “O que você está fazendo?”
BBC – Como você se lembra desse momento?
Mezzenzana – Foi muito engraçado. Eu tinha comprado um sling último modelo, tinha levado muito tempo escolhendo-o, e quando a Digna me viucolocando meu filho nele (depois de muitas tentativas porque ele não queria e chorava), ela pergunta ao meu marido: “Por que está apertando a criança dentro disso? A criança não consegue mexer o rosto, só vê o peito da mãe.”

A maneira como ela abordou a situação não transmitia julgamento, mas parecia mais uma expressão de surpresa. Ela buscava compreender o motivo por trás do que eu estava fazendo.
Fiquei momentaneamente sem palavras, o que me levou a refletir: se sua reação era de surpresa, isso implicava que minha ação não era evidente. Havia possivelmente uma influência cultural subjacente a isso. Agora, a curiosidade era minha, e novas dúvidas surgiram.
A ideia do sling partia da premissa de proteger o filho do mundo exterior, enquanto os Runa acreditam que as crianças precisam estar conectadas ao mundo ao seu redor. Eles, como ele descreveu, carregam as crianças nas costas ou no quadril para que elas possam observar o ambiente.
BBC – Isso carrega consigo uma filosofia de vida, não é verdade?
Mezzenzana – Sim, lembro-me que, ao adquirir o sling, os sites que visitei ressaltavam seu papel ideal no desenvolvimento do vínculo entre pais e filho. Também era enfatizada a importância de proteger os bebês do excesso de barulho e estímulos visuais.
Ao visitar a Amazônia ou qualquer outro lugar que não seja a Europa ou os Estados Unidos, é evidente que as crianças participam ativamente da vida social. Não há a concepção de que devem ser resguardadas da exposição ao mundo ou que a realidade seja avassaladora para elas.

Se você pensar bem, essa concepção de que o mundo sobrecarrega um bebê é algo curioso, uma vez que os seres humanos são animais que vivem inseridos no mundo.
Mesmo quando consideramos os recém-nascidos, nas comunidades Runa, eles estão ao lado das mães durante festas, visitas a outras casas e até na selva.
Ele aponta para a existência de uma perspectiva nas sociedades pós-industriais, na qual acredita-se que as experiências na primeira infância desempenham um papel crucial no sucesso do desenvolvimento cognitivo e emocional. Como os Runa encaram essa questão?
Na minha visão, os Runa possuem uma concepção muito mais flexível acerca do desenvolvimento humano, e não aderem a esse paradigma de que tudo o que ocorre nos primeiros anos de vida é determinante para o futuro.
De fato, diversos psicólogos do desenvolvimento convergem para a ideia de que essa perspectiva é relativamente recente, surgida nos últimos 50 a 60 anos: a crença de que o que transcorre nos primeiros três anos acarreta implicações significativas para o porvir de nossos filhos.
Naturalmente, há fatores que podem exercer influência, mas não são irreversíveis.

Estou lendo um livro, publicado há cerca de 20 anos, por uma psicóloga que aborda essa ideia, que é muito forte em nossa sociedade, e diz que não há e nunca haverá um estudo que mostre a influência de algo que aconteceu na primeiros anos de vida, 40 anos depois.
Ainda assim, é uma ideia que nos assombra.
Uma das minhas preocupações é que toda essa ênfase nos primeiros anos tenha consequências muito duras, principalmente para as mães. Uma culpa é gerada neles.
BBC – Você conta que sua permanência com os Runa repercutiu em sua vida como antropóloga e como mãe. Como?
Mezzenzana – Naquela primeira viagem com meu filho, ele estava feliz.
Essa experiência me ajudou a ver que existem outras maneiras de criar filhos.
Isso me fez reconsiderar muitas coisas que aqui, na Alemanha, na Itália, na Inglaterra, onde moro há muitos anos, são consideradas essenciais e se você não as fizer, você é uma mãe ruim ou seu filho terá problemas no futuro.

Por exemplo, a ideia de ficar atento a criança o tempo todo por medo de que se não o fizer ela possa ter algum trauma, consegui deixar de lado.
Cada vez que estou com os Runas e meus filhos, vejo a importância de estar com outras pessoas, você sente que não está sozinho neste mundo, que tem que conviver com pessoas muito diferentes de você, com outras ideias e necessidades. E isso é mais importante do que se tornar excelente (em alguma coisa) ou se destacar acima dos outros. Meus parentes Runa me lembraram disso.
BBC – Como foi isso?
Mezzenzana – Por muito tempo, os parentes, os vizinhos, me observaram. Dava para perceber que estava muito cansada, muito focada no meu filho e que não via mais nada nem fazia mais nada.
Começaram a fazer piadas sobre esse amor infinito que eu tinha pelo meu filho. Uma das coisas que me disseram em tom de brincadeira foi: “Essas mamães gringas amam os filhos”.

Disseram ao meu filho coisas como: “Coitadinho, o que você vai fazer quando sua mãe morrer? Você estará sozinho neste mundo.”
Levaram-no a outros lugares para que não estivesse somente comigo, e o fizeram com grande alegria.
Jamais ouvi alguém me advertir: “Pare com isso, está prejudicando seu filho.” Nunca me senti alvo de julgamento. Era como se estivessem me fazendo perceber que meu filho pertencia a todos, não apenas a mim.
É fundamental destacar que os Runa, assim como muitos povos indígenas amazônicos, ostentam uma profunda humildade e independência. Consideram absolutamente inapropriado impor aos outros o que acreditam ser correto fazer; seu respeito pelas escolhas individuais é notavelmente arraigado.
Foi ao observar a forma como meu filho era tratado que comecei a ponderar sobre minhas próprias ações. Esse processo se desenrolou de maneira sutil, mas se revelou significativo.
BBC – Os Runa possuem uma perspectiva distinta em relação à morte?
Mezzenzana – Sem dúvida.
As crianças Runa são integradas à vida dos adultos; não existe tópico que seja tabu na frente delas.
Essa abertura é notável; todos os assuntos são discutidos abertamente, e desde tenra idade as crianças aprendem sobre todos os aspectos.

Lembro que quando voltamos, meu filho tinha dois anos e meio e participamos de uma atividade coletiva para limpar a grama do cemitério.
Meu filho indagou sobre aquele local, perguntando: “O que é este lugar?” Respondi: “É um cemitério”, e então ele prosseguiu com mais questionamentos: “O que isso significa? Por que os mortos estão aqui? O que é a morte?”
Lembro que meu amigo, de maneira simples, lhe explicou que todos nós, inclusive ele, um dia iremos morrer. Isso o impactou profundamente, pois, em sua idade, ele compreendeu o significado. Ele ficou visivelmente sério e perguntou: “Mas como?”
Minha comadre disse a ele: “Tudo o que vive tem um começo e um fim, assim como as plantas e nós”.
As crianças não são mantidas alheias ao tópico da morte.
Uma das diferenças mais notáveis que meu marido observa entre europeus e Runa é que para ele, quando alguém falece, isso é visto como o fim do mundo, enquanto para os Runa, faz parte da jornada que deve ser enfrentada; mesmo que seja triste, eles adotam uma perspectiva similar à dos budistas.
Eles compreendem que a morte e a dor são aspectos inerentes à vida, e embora não necessariamente o entendam em termos conceituais, eles o vivenciam.
É um traço que admiro profundamente e que até me causa certo sentimento de inveja. E esse entendimento tem suas raízes na infância.
Quando uma vizinha saía com o bebê, o marido, ao perceber a mulher procurando freneticamente pela criança, dizia a ela: “Pare de se preocupar tanto, a criança está bem”.
Isso ocorreu diversas vezes. Quando eu tinha a intenção de fazer algo rápido e deixar o menino com o pai, alguém o levava para passear.
Não vê-lo gerava ansiedade, e eu ia procurá-lo. Porém, localizá-lo tornava-se desafiador dadas as vastas distâncias na selva.
Recorri ao meu marido em busca de ajuda, mas ele recusou, explicando que a criança estava em boas mãos e que eu deveria confiar em pessoas que já tinham experiência com um número maior de filhos do que eu.

Foi difícil aceitar, continuei procurando, mas depois disse para mim mesmo: você tem que confiar nas outras pessoas.
Na primeira vez, fiquei com muita raiva. Foi muito difícil para mim entender como eles puderam levar meu filho de quatro meses por horas sem pedir minha permissão.
Mas ele sempre voltou saudável, feliz, calmo.
O marido dela é membro da Runa, ele cresceu lá, viveu o que o filho viveu.
Depois de morar na Europa por muitos anos, ele entende minha ansiedade, mas não naquela época. Ele cresceu cercado por muitas pessoas. Ele não via esse cuidado coletivo como algo estranho ou problemático.
BBC – Crescer no povo Runa é então um ato coletivo.
Mezzenzana – Sim, porque no final essas crianças se tornarão as pessoas que cuidarão de seu povo e de sua selva.
No caso dos Runa, a criança é membro da comunidade e vai trabalhar para ela, vai viver em paz com os vizinhos.
Essas comunidades são muito pequenas, tem muita liberdade, as crianças andam pra todo lado, se chega em alguma casa, tem comida.
Todos se conhecem, são todos ayllu , família, comunidade.
Você descobriu que sua família Runa parecia alheia à ideia de uma relação “mãe-filho exclusiva e dominante” e também à ideia de que as necessidades e desejos dos filhos devem ser atendidos “sempre e prontamente”. Seu artigo fala sobre o conceito de “individualismo suave”. Por quê?
A ideia foi desenvolvida por uma antropóloga (Adrie Kusserow) que fazia pesquisas, em Nova York, com crianças de famílias da elite e crianças da classe trabalhadora.
Ele descobriu que as crianças pertencentes à elite eram percebidas por seus pais como pessoas que precisavam de cuidados constantes, motivação permanente, como se fossem muito frágeis e seus egos tivessem que ser cultivados com frequência e delicadeza.
Essa forma de atenção constante ficou muito naturalizada, a gente nem toma como problemática.
Entre os Runa, ninguém diz às crianças: “Muito bem” ou “Você se saiu muito bem, estou muito orgulhoso de você”.
Um entrevistador de podcast me disse que parecia muito difícil para ele, mas não é.
Essas crianças podem fazer tantas coisas, são tão independentes, têm tanta liberdade de movimento que não precisam que alguém diga: “Tudo bem”. Eles sabem que fazem isso muito bem.
Sempre penso nas crianças que conseguem acender uma fogueira em dois minutos e ninguém as reconhece por isso, a fogueira é a demonstração de que conseguem.
E esse “individualismo brando”, escreveu ele, promove a auto-expressão e o individualismo psicológico, e não é coincidência que essas sejam qualidades também promovidas na sociedade neoliberal.
Os debates sobre como educar os filhos estão focados no desenvolvimento cognitivo das crianças com a ideia de que elas podem ser bem-sucedidas, mas todo esse sucesso não é para as crianças serem membros de uma comunidade, mas para seu desenvolvimento individual e sucesso no mercado de trabalho) .
Muitos desses debates falam sobre o cérebro: “como melhorar o desenvolvimento cerebral da criança”, mas não falam sobre as habilidades de estar com os outros, de cooperar, que são habilidades que vão ajudá-los muito mais tarde.

Em minha experiência como pesquisadora, tenho visto que deixar um filho para assumir a responsabilidade de um irmão, um primo, confere a ele uma série de habilidades incríveis.
Teríamos que repensar o que achamos que eles podem fazer.
Pode um menino de 7 anos ser tão responsável ao cuidar do irmão? E a resposta é que na Amazônia, sim. Se trata de algo cultural.
A gente tem a ideia dos bebês como extremamente frágeis e meu filho era levado pra cá e pra lá pelas outras crianças, eles carregavam ele e o abraçavam.
BBC – Você também argumenta que fora do mundo pós-industrial, as crianças raramente são o centro da vida adulta. Qual foi a experiência com o povo Runa?
Mezzenzana – A criança participa de todas as atividades e, como qualquer outro membro da comunidade, não há ideia de que o desejo de uma pessoa, mesmo de uma criança, pode influenciar o desejo de outras pessoas.
Obviamente, se uma criança está muito doente, o bom senso funciona, como em todos os lugares.
Lembro que, desde que tive bebê, queria que meu passeio de canoa fosse rápido, sem paradas e em horário certo para não fazer tanto calor.
Todo esse planejamento em torno das necessidades, percebidas por mim, do meu filho, foi algo simplesmente incrível.
Se meu filho estivesse bem, ele poderia ir na viagem como os outros. Não eram necessárias mudanças só para ele.

É muito interessante como, mesmo inseridasem um ambiente de carinho e cuidados, as crianças não ocupam o centro das atenções. Em vez disso, aprendem a se orientar a partir das ações dos outros.
Dado que esse aprendizado se inicia precocemente, os frequentemente mencionados “terríveis dois anos” (a expressão popular ‘terrible two’ em inglês), não encontram eco nesse contexto, pois as crianças já estão imersas na ideia de que seus desejos são relevantes, embora inseridos em um contexto que muitas vezes impede que sejam prontamente atendidos. Isso ocorre devido à limitação de tempo ou a necessidades de terceiros, exigindo paciência e compreensão.
De maneira notável, as crianças aprendem a discernir os contextos rapidamente.
BBC – Você destaca que “aos olhos do povo Runa, as crianças ocidentais crescem mimadas, excessivamente protegidas e despreparadas para lidar com o mundo ao seu redor”.
Mezzenzana – Uma das principais preocupações das comunidades Runa na Amazônia é que, quando seus filhos ingressam na cidade, assimilem os costumes da população mestiça.
E, quando eles têm seus próprios filhos, os educam à maneira mestiça. Para eles, a educação branca é excessivamente voltada para as necessidades individuais e não leva em consideração o papel social das crianças dentro da comunidade.
Os avós sentem apreensão de que seus netos se tornem mimados.
Na cidade, por exemplo, há uma concepção de que deixar as crianças brincarem muito é uma forma justa de educação – algo tido como sagrado. Porém, para a comunidade Runa, a linha entre brincadeira e trabalho é sutil.
Por exemplo, quando as crianças vão pescar, para elas é uma atividade lúdica, porém, ao mesmo tempo, é útil para suas famílias. O mesmo ocorre quando colhem frutas ou sobem em árvores; elas se divertem, mas também contribuem com a comunidade por meio do que trazem.
Acredito que a noção das crianças como uma entidade separada, frágil e que requer cuidados próprios, desassociada da vida adulta, é o que inquieta as pessoas e as leva a perceber essas crianças como mimadas.
Isso é resultado da falta de engajamento das crianças na vida social.
BBC – Como foi o retorno com dois filhos?
Mezzenzana – Na época, meu filho tinha 7 anos. Ele saía de manhã e só retornava à tarde. Eu não tinha conhecimento do que ele comia ou do que fazia, já que é esse o formato dos dias das crianças lá: passam o tempo em grupos, explorando a comunidade.
Isso lhe proporcionava uma sensação agradável de independência e pertencimento a um grupo de colegas.
Minha filha também adorou essa experiência, e ela tinha dois anos na época.
Para mim, esse processo tem sido gradativo, e ao longo do tempo tenho me tranquilizado progressivamente.